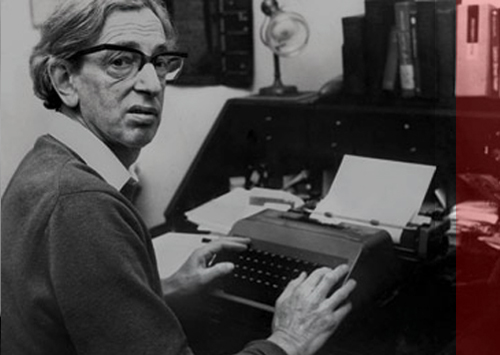Por Mauro
Iasi.
Uma
família de nobres voltava a São Petersburgo com seus inúmeros filhos e malas
volumosas. Havia se retirado em fevereiro para fugir dos acontecimentos
trágicos que haviam derrubado o Czar e não havia acompanhado o desenvolvimento
político que levara os trabalhadores ao poder em outubro. Pateticamente parada
na plataforma e acostumada com um servilhismo milenar, esperava que algum
carregador implorasse para levar as bagagens da família em troca de alguns
míseros copeques.
Depois
de esperar em vão por um bom tempo, um criado (nobres não se dignavam a falar
com pobres) vai buscar informações e ouve a seguinte resposta: “agora somos
livres, se quiser carregue suas malas”!
Era
a grande revolução de Outubro que emergia lá de onde costuma vir as coisas dos
explorados, da periferia, das sombras esquecidas sob a ofuscante aparência de
riqueza das sociedades opulentas, dos cantos obscuros que o olhar hipócrita
quer esquecer ou incorpora como normal. Em meio à tragédia da guerra, a
barbárie em sua forma mais didática, a vida resistia e se levantava contra a
fome e a morte.
A
Revolução Russa marcou de forma definitiva a história do século XX em muitas
áreas (ver a coletânea organizada por Milton Pinheiro, Outubro e as
experiências socialistas do século XX. Salvador, Quarteto: 2010),
como acontecimento político, como experiência histórica de um Estado
Proletário, como base de transformações econômicas fundadas na socialização dos
meios de produção, nas práticas do planejamento, como influência política
direta nos rumos do movimento comunista internacional e a formação de
estratégias e táticas do movimento revolucionário mundial.
Não
podemos esquecer sua importância no desenvolvimento da cultura (é só pensar em
Vladimir Maiakoviski na poesia e Sergei Eisenstein para o cinema), o ulterior
desenvolvimento da música (Prokofiev, Straviski) e dança, das ciências (Luria,
Vigotski, Bakthin, e tantos outros), o desenvolvimento técnico e científico
(Sakharov, Andréi Kolmogórov, etc.). No entanto, quisera me deter numa outra
dimensão.
Certos
acontecimentos históricos despertam algo um pouco mais intangível que suas
manifestações econômicas, políticas, culturais e técnico-científicas. A
revolução russa se espalhou pelo mundo, sem internet e televisão, numa
velocidade que precisa ser compreendida. Não apenas se expandiu enquanto
processo revolucionário que em menos de seis meses havia saído da Europa
oriental e chegado ao mar do Japão, se alastrado como fogo em palha pelo antigo
império czarista, como atravessou o oceano e incendiou o coração e as
esperanças dos trabalhadores das partes mais distantes do globo.
Em
uma foto de grevistas em um porto nos EUA na mesma época pode se ver ao fundo
uma faixa na qual se lê: “façamos como nossos irmãos russos”. No Brasil as
greves operárias se alastravam até a greve geral de 1917 e a Revolução russa
foi saudada pelo movimento anarco-sindicalista como expressão da revolução
libertária enquanto emissários eram mandados para lá para colher informações e
prestar solidariedade. Poucos anos depois, nos anos vinte, quando o caráter
marxista da experiência soviética se torna evidente, distanciando-se, portanto,
dos princípios anarquistas, forma-se um movimento comunista que não tem
paralelo com nenhum outro por sua escala mundial, sua forma de organização e
sua ação.
Partidos
Comunistas são formados em toda a América Latina, assim como em quase todos os
mais distantes rincões do planeta, dos EUA até a China. Evidente que a formação
da União Soviética e da III Internacional Comunista explicam a iniciativa e
mais, a necessidade, de uma organização internacional, mas não sua aceitação e
rápido desenvolvimento. Há elementos objetivos e subjetivos que precisam ser
levados em conta.
Os
objetivos são por demais conhecidos e podem ser resumidos na própria
internacionalização do modo de produção capitalista e sua transformação em
imperialismo, mas não podemos compreender a dimensão desse fenômeno sem
entender que a revolução soviética foi um evento catalisador de esperanças de
todos os explorados.
Como
nos dizia Marx, para que se forje uma classe revolucionária é necessário que se
manifeste uma classe que se apresente como um entrave de caráter universal, ao
mesmo tempo em que outra consiga expressar através de sua particularidade os
contornos de uma emancipação universal. Falando da Alemanha, Marx afirmava que
faltava: “grandeza de alma, que, por um momento apenas, os identificaria com a
alma popular, a genialidade que instiga a força material ao poder político, a
audácia revolucionária que arremessa ao adversário a frase provocadora: Nada
sou e serei tudo.” (Marx, K. Crítica à
filosofia do direito de Hegel. São Paulo, Boitempo: 2005.
p.154).
Não
se trata de nenhum deslize idealista, mas de exata combinação de fatores que
dada certas condições materiais, que sem dúvida a guerra mundial propiciava,
cria uma equação na qual uma classe encontra as condições de sua fusão enquanto
classe.
Imersa
na cotidianidade reificadora, submetida às condições da exploração os
trabalhadores vivem seu destino como uma condição inescapável. Ainda que
submetidos as mesmas condições que seus companheiros, não vivem estas condições
como base para uma consciência e ação comuns, mas como uma serialidade, nos
termos de Sartre. A vida é assim e é impossível mudá-la.
Em
certas condições, no entanto, se produz uma situação na qual a realidade se
impõe de tal forma que se torna impossível manter a impossibilidade de mudá-la,
nas palavras de Sartre: “A transformação tem, pois, lugar quando a
impossibilidade é ela mesma impossível, ou se preferirem, quando um
acontecimento sintético revela a impossibilidade de mudar como impossibilidade
de viver” (Sartre, J. Crítica de la razón dialéctica. Buenos Aires: Losada,
1979, v. 2, p.14). O pensador francês tem em mente os acontecimentos da crise
da monarquia absolta que levou a eclosão da Revolução Francesa, mas vemos
claramente esses elementos na crise do czarismo nas condições da guerra.
Interessa-nos,
no entanto, outra dimensão desse fenômeno. Da mesma forma que um acontecimento
sintético pode levar à fusão da classe e a superação de sua situação de
serialidade, encontrando na ação do grupo as condições para abrir a
possibilidade de superar o campo prático inerte, devemos supor que uma ação
particular da magnitude de um processo revolucionário como o russo, provoca um
efeito sobre os trabalhadores, mesmo aqueles que não estavam envolvidos direta
e presencialmente nos acontecimentos.
Ernesto
Che Guevara denominava isso de “consciência da possibilidade da vitória” e
inclui entre as condições objetivas que torna possível uma revolução. Quando os
trabalhadores vêem os revolucionários russos varrerem seus tiranos, quebra-se a
impressão de naturalização e inevitabilidade com as quais revestiam suas
condições de existência. É possível mudar, nada somos, mas podemos ser tudo.
Em
um belo poema soviético é descrita a cena na qual uma camponesa que agora tinha
acesso aos museus e suas obras de arte se detêm diante de um quadro a
admirá-lo. A autora do poema então conclui: “mal sabia que ali era uma obra de
arte a admirar outra”. Operários assumem as fábricas, as terras são entregues
aos comitês agrários para serem repartidas. Soldados, operários, camponeses,
marinheiros, lotam os teatros antes privativos da nobreza russa, para ouvir
Maiakóviski recitar os poemas que retira dos bolsos de seu enorme casaco e de
seu coração ainda maior.
Suspendemos
por um instante as enormes dificuldades que viriam, a guerra civil, o
isolamento, a burocratização e a degeneração que culminaria no desfecho
histórico de 1989. Naquele momento de maravilhoso caos, a vida fluía não como
processo que aprisiona os seres humanos nas cadeias do estranhamento, mas como
livre fluir de uma práxis transformadora. Tudo pode ser mudado. Podemos criar
as crianças de uma nova forma, e já vemos Makarenko e seu enorme coração
abrigando os órfãos da guerra e reinventando a pedagogia, trabalhadores
organizando as comissões de fábrica e Alexandra Kollontai olhando o mundo com
os olhos de mulheres emancipadas.
Enquanto
o mundo capitalista preparava-se para esmagar a experiência revolucionária
russa (a república dos trabalhadores seria atacada em 1918 por dez potências
estrangeiras), o generoso coração da classe trabalhadora acolhe esta
experiência como sua e a defende, sem conhecê-la profundamente, sem que a
compreenda de todo, mas por que nela se reconhece.
Paz,
terra, pão e sonhos voavam pelo mundo que o capital havia tornado um só e mãos
calejadas, duras como a terra que trabalham, os seguram e se alimentam da
esperança dos que se levantaram contra seus opressores. Corpos exauridos pela
chacina diária das fábricas caminham pelas ruas e olham em frente, levantam
seus punhos e cantam a canção que os unia: se nada somos em tal mundo, sejamos
tudo, ó produtores!
Em
tempos como os nossos, de hipocrisia deliberada, em tempos de humanidade
desumanizada, de cotidianidade reificada, a consciência da possibilidade da
vitória se reverte em seu contrário e se manifesta novamente como uma
consciência da impossibilidade da mudança. Brecht nos alerta: nada deve parecer
natural, porque nada deve parecer impossível de mudar e completa em outro
poema: até quando o mundo será governado por tiranos? Até quando iremos
suportá-los?
Presos
à nova serialidade, fragmentados e divididos, submetidos às novas cadeias de
impossibilidades, escolhendo a cada quatro anos quem irá comandar sua
exploração, nossa classe nem se lembra que teve um outubro e que fizemos a
terra tremer e que os poderosos perderam o sono diante da iminência de seu
juízo final.
Diante
da realidade do capital internacional que ameaça a humanidade, diante da
barbárie diária que ameaça minha classe, gestam-se novas impossibilidades de
manter os limites do possível, crises didáticas transformam em pó certezas neo
e pós liberais arcaicos/modernos e suas irracionalidades racionais. O pólo da
negatividade humana se reapresenta arrogante e prepotente. Muitos são os que se
levantam ainda sem rumo, não importa, que se levantem e gritem, resistam e
lutem. Mas, em sua marcha olhando para o futuro, resistindo contra as mazelas
do presente desumano do capital, olhem por um momento para trás, vejam como já
marchavam à nossa frente nossos camaradas russos, vejam como iam decididos e
corajosos abrindo caminho em direção ao amanhã.
Marchemos
para frente, tiremos nossa poesia do futuro, basta de anacronias e cópias do
passado, mas não nos esqueçamos nunca que tivemos um Outubro, e foi nosso, e
foi um grande Outubro vermelho e proletário, e foi tão grande que foi
planetário, e foi tão generoso e fraterno que nele se irmanaram todos os
trabalhadores do mundo e chegaram a acreditar que tudo podia mudar e, por um
momento, mudaram tudo que podiam.
Viva a revolução
Soviética de 1917. Outubro… ou nada!
Mauro Iasi é professor adjunto da Escola de Serviço Social da UFRJ,
presidente da ADUFRJ, pesquisador do NEPEM (Núcleo de Estudos e Pesquisas
Marxistas), do NEP 13 de Maio e membro do Comitê Central do PCB. É autor do
livro O dilema de Hamlet: o ser e o não
ser da consciência (Boitempo, 2002). Colabora para o Blog da Boitempo
mensalmente, às quartas.